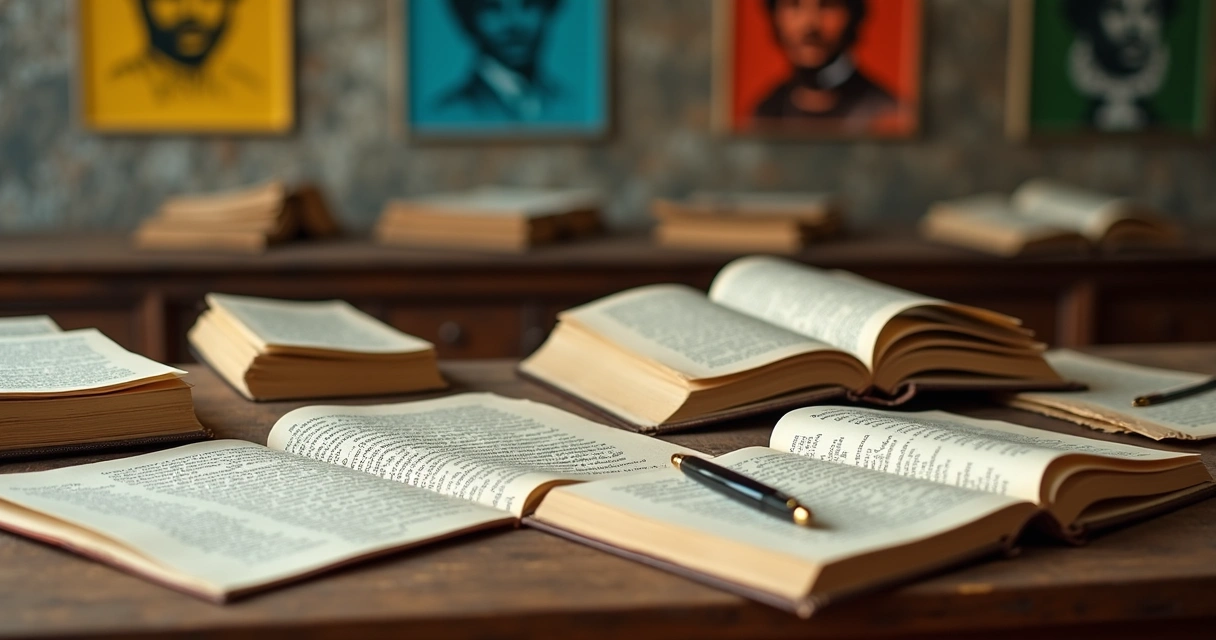A poesia que nasce no Brasil é um caleidoscópio que gira sem cessar, uma máquina de assombro que colhe luz de pedras antigas e reflexo de fachadas de vidro. Não se contenta com o contorno quieto: prefere o chiar das esquinas, o rumor da feira, a ladainha das marés. Quando acorda no sertão, fala como água rara. Quando desce ao asfalto, aprende gírias de fogo e frestas de buzina. Entre o silêncio dos quintais e a explosão de vozes dos becos, o criador de versos ensaia o mais antigo ofício humano: dar forma ao invisível para que o mundo, enfim, se reconheça.
O poeta brasileiro é um artesão de travessias.
Em suas mãos, a palavra é canoa e ponte, faca e ungüento. Ele nomeia a vida nas esquinas como quem recolhe conchas no refluxo do tempo: cada nome resgata uma margem; cada verbo, um gesto de restituição. Não lhe basta repetir a língua; é preciso destemperá-la, fazê-la soar além do hábito, devolver-lhe o sal e o risco. A poesia, aqui, não se rende ao verniz da correção: prefere o tremor do vivido, a aspereza das ruas, a gramática que nasce do corpo.
Somos feitos de ecos. A cada poema, o Brasil ouve tambores que vieram de navios sem retorno, cantos que brotaram das matas, ladainhas de capelas brancas, idiomas de chegantes que desfazem e refazem o litoral. O poeta traz esse coro no peito: quando escreve, as ancestralidades se tocam, e a página vira encruzilhada. A palavra, então, dança entre orixás e santos, batuques e marchinhas, rezas e palavrões. É nesse entrechoque que o verso acende; é nessa fricção que a língua aprende a respirar outros pulmões.
Há traços que voltam como maré. Um deles é a recusa do conformismo. O poeta brasileiro não assina paz com a miséria. Ouve o grito calado das cozinhas, as vozes que o protocolo não escuta, as estatísticas que não contam os nomes. Quando a cidade impõe a pressa, ele inventa um passo mais lento para notar o gesto invisível: o cuidado da vizinha que partilha o sal, a criança que aprende o mundo na fila do ônibus, a chuva que lavra a rua e grava sua caligrafia no asfalto. O verso sabe que a vida acontece nas miudezas: um café morno, um corpo cansado, uma esperança que insiste.
Entre tradição e reinvenção, a poesia brasileira move suas placas tectônicas. Há quem caminhe pelo leito antigo, respeitando a cadência dos sonetos como quem toca um rosário; há quem rasgue o molde e escore a palavra no que ainda não tem nome. Um século, outro, e o país reaprende a sua língua: o barroco atiça o paradoxo, o arcadismo suspira entre sombras, o romantismo inventa uma nação em forma de canto, a modernidade explode as janelas da métrica, a voz marginal devolve a rua ao poema, a voz periférica devolve o poema ao povo. Tudo pulsa ao mesmo tempo, numa praça onde o tempo é circular e o presente guarda dentro de si a genealogia do espanto.
A memória literária não é vitrine: é caixa de ferramentas. Do sarcasmo do “Boca do Inferno” à pedra que Drummond nos legou como exame de consciência, das escrevivências que Conceição alça ao centro ao brado libertário de Castro Alves, das musicalidades de Cecília às brasas de Solano Trindade, o país aprendeu que poesia não é luxo de estante: é nervura de país. Não se trata de um catálogo de homenagens, mas de uma linhagem em movimento: cada voz nova conversa com as ausentes e inventa uma dobra inédita na língua.
E a cidade? A cidade é um grande caderno. Nela, a grafite do muro disputa com o anúncio luminoso quem brilha mais. O slam no largo chama o corpo para dentro da palavra; o sarau na laje avista a lua entre antenas e telhados; o poema digital passeia por telas e bolsos, multiplica leituras, convoca respiros. A oralidade, que nos antecede, retorna com a dignidade de rito: o verso dito tem calor, saliva, coração. O ouvido, esquecido por tanta imagem, recobra sua ciência de acolher.
A poesia volta a ser praça, fogueira, roda de escuta.
Mas não se vive apenas de lutas. Vive-se, também, de delicadezas. Em meio à aceleração técnica, a poesia reaprende o gesto antigo de cuidar. Ler em grupo, ouvir um poema até que ele encontre seu ritmo dentro do peito, anotar uma imagem como quem guarda ervas na dispensa: tudo isso restitui à vida um tempo humano. A biblioterapia é uma mesa posta: cada um chega como está; cada um sai com um pedaço de luz na mão. A mediação de leitura é uma arte do encontro: não impõe, convida; não diagnostica, acompanha. A escrita criativa, quando feita como exercício de presença, devolve nome aos medos, inaugura respiros, desenferruja a esperança.
O corpo entra em cena. Durante muitos séculos, o poema tentou ser apenas cabeça. Agora, a musculatura retorna: respiração, pele, memória, prazer, ferida. O verso tateia cicatrizes como quem lê mapas. O poeta compreende que pensar é também sentir, e que a inteligência mais alta sabe escutar o rumor do sangue. Ao escrever, o corpo encontra linguagem para o que não sabia dizer. Ao ler, o corpo reconhece em outro corpo um parentesco de sombras e claridades. A poesia, então, vira medicina de partilha — cura que não promete milagres, mas devolve companhia.
Há, nesse país, um ateliê que entende a palavra como morada comum e atravessa a cidade, organiza rodas, acende conversas, articula pesquisa e afeto. É um lugar de mão dupla: a tradição é honrada, a inovação é convocada. A palavra está ao alcance das pessoas, como água de pote. Ali, a poesia não é disciplina: é prática de convivência, exercício de autonomia, laboratório de cidadania. O livro sai à rua; a rua entra no livro; a escola redescobre a graça de pensar em voz alta.
E há perguntas que não cessam. O que faz do poeta brasileiro uma figura única? Talvez esse talento de sobreviver à própria história. Talvez essa fidelidade às ruínas e aos começos. Talvez essa capacidade de traduzir tempestades com meia dúzia de imagens nítidas. Talvez, ainda, a coragem de se colocar no entre: entre o sagrado e o profano, entre a festa e o luto, entre o riso e a notícia, entre a forma herdada e a estratégia que a desarma. O poeta não oferece respostas como quem vende mercadorias: oferece perguntas boas o bastante para nos devolver ao caminho com os olhos mais abertos.
O futuro? Não cabe numa profecia, mas cabe numa cena: uma criança escreve num caderno escolar, na mesa da cozinha; uma mulher lê alto num ônibus lotado; um grupo se reúne numa biblioteca de bairro; um homem velho sublinha um verso que o acompanha há décadas; uma juventude preta ocupa o palco com o corpo inteiro; alguém, de madrugada, encontra um poema numa tela pequena e, por um minuto, respira melhor. Enquanto isso acontecer, a poesia terá trabalho.
Se a poesia é casa, o Brasil é seu bairro inteiro.
Cada janela dá para um horizonte distinto; cada porta abre para uma história; cada telhado guarda o barulho da chuva. Habitar essa casa pede olhos abertos e pés descalços. Pede reverência ao que veio antes e invenção para o que chega. Pede que a palavra continue sendo ponte, mesmo quando a paisagem é brecha. Pede que a leitura continue sendo encontro, mesmo quando a vida urge. Pede, enfim, que a cidade e o sertão, a praia e a montanha, a aldeia e a metrópole aprendam a conversar sem tradutores de ferro.
Entrar nessa casa é aceitar o convite de uma língua que nos excede. É aprender a honrar o que em nós não se explica, mas se canta. É reconhecer que a poesia não salva o mundo, mas salva instantes — e que, às vezes, é o bastante. É saber que o verso não substitui o pão, mas alimenta a coragem de buscá-lo com dignidade. É olhar para o país como quem olha um rosto querido: enumerar as falhas, tocar as rugas, celebrar as belezas que resistem.
A poesia, aqui, continua. Ela sobe o morro, desce à lagoa, cruza a ponte, pega a balsa, toma o trem. Ela anda a pé porque sabe que a cidade se aprende com passos. Ela guarda nos bolsos a herança e a novidade. Ela chama, sempre: vem. E quem escuta sabe: atender é começar a pertencer.
__